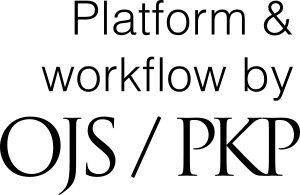Fundamentos Anticoloniales de la Didáctica Histórico-Crítica Para la Enseñanza de la Historia y la Cultura Afrobrasileña en las Clases de Química: Abriendo Caminos
DOI:
https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2024u685711Palabras clave:
enseñanza de química, historia y cultura afrobrasileña, relaciones étnicas y raciales, pedagogía histórico-críticaResumen
El creciente número de estudios que presentan propuestas didácticas, junto con la queja continua de los educadores sobre la falta de preparación teórica para abordar la historia y la cultura afrobrasileña dentro de las clases de química, constituye la principal motivación de esta investigación. Enraizado en el marxismo, este trabajo buscó producir un principio pedagógico anticolonial para guiar, a nivel didáctico, el proceso de selección de contenidos, formas y procedimientos para la enseñanza de la historia y cultura africana y afrobrasileña en las clases de química. La trayectoria de este trabajo comienza con un análisis teórico de las contribuciones de la academia y el movimiento negro sobre este tema, centrándose en las categorías de forma, contenido y audiencia, para finalmente llegar al principio pedagógico anticolonial. En este principio, sostenemos que la historia y la cultura africanas y afrobrasileñas deben ser el enfoque de un enfoque anticolonial en la educación química, siempre que se aborde en su forma clásica: considerando la base material y los intereses colectivos del proletariado negro. Además, este principio ofrece orientación metodológica sobre cómo enseñar esta forma clásica de historia y cultura africanas y afrobrasileñas en la enseñanza de la química, en un intento de superar la naturaleza común de las propuestas didácticas que a menudo se encuentran en este campo. Por consiguiente, a pesar de la carencia de investigación en asuntos empíricos, este principio comienza a brindar orientación sobre la selección de contenidos, modalidades, indicadores de planificación y otros aspectos procedimentales de la enseñanza de la historia y la cultura africana y afrobrasileña en las clases de química.
Referencias
Basílio, T. A., & França, M. G. (2020). O ensino de química na perspectiva da educação das relações étnico-raciais. Kwanissa: Revista De Estudos Africanos E Afro-Brasileiros, 3(6), 238–270. https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa/article/view/15177
Bastos, M. A., & Benite, A. M. C. (2017). Cultura Africana e Ensino de Química: Estudo sobre a Formação Docente. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), 9(21), 64–80. https://abpnrevista.org.br/site/article/view/227
Benite, A. M. C., Silva, J. P. da, & Alvino, A. C. (2016). Ferro, Ferreiros e Forja: O Ensino de Química pela Lei Nº 10.639/03. Educação em Foco, 21(3), 735–768. https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/19877
Cabral, A. (2019). A arma da teoria. In J. Manoel, & G. Landi (Orgs.), Revolução africana: Uma antologia do pensamento marxista (pp. 127–171). Autonomia Literária.
Cardoso, E. L. (2014). Memória de Movimento Negro: um testemunho sobre a formação do homem e do ativista contra o racismo (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. https://doi.org/10.11606/T.48.2014.tde-16032015-151945
Cardoso, S. M. B. (2019). Indícios de uma perspectiva (de)colonial no discurso de professores (as) de química: desafios e contribuições na educação para as relações étnico-raciais (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia). DSpace. https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30637
Cheptulin, A. (1982). A dialética materialista: categorias e leis da dialética. Editora Alfa e Omega.
Conceição, W. R. (2019). “Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo”: o Movimento dos Quilombos Educacionais em Salvador-BA (Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia). DSpace. https://repositorio.ufba.br/handle/ri/31507
Conselho Nacional de Educação. (CNE). (2004). Parecer CNE/CP 3/2004. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf
Cunha, S., & Mattos, J. S. (2017). Além da caipirinha: cachaça como solvente para síntese orgânica e extração de pigmento. Química Nova, 40(10), 1253–1258. https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170110
De-Carvalho, R. (2020). Afrocentrando discursos por outra natureza da ciência e da tecnologia para ensinar ciências. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, 11(6), 132–151.
Domingues, P. (2007). Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo, 12(23), 100–122. https://www.scielo.br/j/tem/a/yCLBRQ5s6VTN6ngRXQy4Hqn/?format=pdf&lang=pt
Domingues, P. (2008). Movimento negro brasileiro: história, tendências e dilemas contemporâneos. Dimensões, (21), 101–124. https://periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2485
Duarte, N. (2016). Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos: contribuição à teoria histórico-crítica do currículo. Autores Associados.
Fadigas, M. D., Sepulveda, C., Morais, J., & Santos, M (25–28 de junho, 2019). Afrofuturismo como plataforma para promoção de relações étnico-raciais positivas no ensino de ciências. XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), Natal, Rio Grande do Norte.
Fanon, F. (2019). Racismo e cultura. In J. Manoel, & G. Landi (Orgs.), Revolução africana: uma antologia do pensamento marxista (pp. 67–82). Autonomia Literária.
Fonte, S. S. D. (2011). Fundamentos teóricos da pedagogia histórico-crítica. In A. C. G. Marsiglia (Org.), Pedagogia histórico-crítica: 30 anos (pp. 23–42). Autores Associados.
Gomes, N. L. (2017). O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Vozes.
Gonçalves, L. A. O., & Silva, P. B. G. (2000). Movimento negro e educação. Revista Brasileira de Educação, (15), 134–158. https://www.scielo.br/j/rbedu/a/8rz8S3Dxm9ZLBghPZGKtPjv/?format=pdf&lang=pt
Gonzaga, K. R., Martins, A. R., & Raykil, C. (2020). O professor de química e a lei 11.645/08: discutindo a educação das relações étnico-raciais em Porto Seguro. Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar, 4(10), 51–68 . https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/1063
Gonzalez, L. (2020). Discurso na constituinte. In F. Rios, & M. Lima (Orgs.), Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos (pp. 244–262). Zahar.
Gonzalez, L. (2022). O movimento negro na última década. In L. Gonzalez, & C. Hasenbalg (Orgs.), Lugar de negro (pp. 15–83). Zahar.
Heidelmann, S. P., & Silva, J. F. M. (2018). Lei federal 10.639/03 e o ensino de química: um levantamento sobre a sua efetividade nas salas de aula do estado do Rio de Janeiro. Revista de Educação, Ciências e Matemática, 8(3), 167–180. https://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm/article/view/4681
Lima, L. R. F. C. (2021). A ludicidade na formação de professores de química: princípios para uma perspectiva crítica (Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia). DSpace. https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33530
Luna, L. (2017). Um corpo no mundo. YB Music.
Magalhães, P., Messeder Neto, H. S. (2021). Consciência pedagógica e vir a ser docente: as idas e vindas formativas nas entrelinhas dos relatos de estágio de um licenciando. Educação Química en Punto de Vista, 5(1), 72–93. https://doi.org/10.30705/eqpv.v5i1.2594
Magalhães, P., Oliveira, I., & Messeder Neto, H. S. (2021). Todos pela (neutralização da) Base: o começo de uma análise ácida e antirracista da BNCC. XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), on-line.
Marquez, S. C., Pinheiro, J. S., Santos, E. S., & Silva, R. M. G. (25–28 de julho, 2016). Tendências atuais da pesquisa em ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino de Química. XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), Florianópolis, Santa Catarina.
Marsiglia, A. C. G., Martins, L. M., & Lavoura, T. N. (2019). Rumo à outra didática histórico-crítica: superando imediatismos, logicismos formais e outros reducionismos do método dialético. Revista Histedbr On-Line, 19, 1–28. https://doi.org/10.20396/rho.v19i0.8653380
Martins, L. M. (2013). O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Autores Associados.
Marx, K. (2017). O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital (2ª ed.). Boitempo.
Moura, C. (2014). Dialética radical do Brasil negro (2ª ed.). Fundação Maurício Grabois/Anita Garibaldi.
Moura, C. (2019). Sociologia do negro brasileiro (2ª ed.). São Paulo: Perspectiva.
Nascimento, A. (2004). Teatro Experimental do Negro: trajetória e reflexões. Estudos Avançados, 18(50), 209–224. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100019&lang=pt
Nkrumah, K. (1966). Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism. International Publishers.
Oliveira, R., Salgado, S., & Queiroz, G. (2019). Educação em direitos humanos e decolonialidade: um diálogo possível em educação em ciências? In B. A. P. Monteiro, D. S. A. Dutra, S. Cassiani, C. Sánchez, & R. D. V. L. Oliveira (Orgs.), Decolonialidades na Educação em Ciências (pp. 119–137). Editora Livraria da Física.
Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde. (1974). Manual Político do PAIGC (3ª ed.). Edições Maria da Fonte.
Pasqualini, J. C. (2010). Princípios para a organização do ensino na educação infantil na perspectiva histórico-cultural: um estudo a partir da análise da prática do professor (Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, São Paulo). Repositório Institucional UNESP. http://hdl.handle.net/11449/101525
Pinheiro, B. C. S. (2019). Educação em Ciências na Escola Democrática e as Relações Étnico-Raciais. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 19, 329–344. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2019u329344
Pinheiro, J. S., Dornelas, E. L., Santos, R. V., Gondim, M. S. C., & Rodrigues Filho, G. (2017). Química das pimentas pelos caminhos de Exu. In R. D. V. L, Oliveira, & G. R. P. C. Queiroz (orgs.), Conteúdos cordiais: química humanizada para uma escola sem mordaça (pp. 1–14). Livraria da Física.
Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú Indígena, 13(29), 11–12. https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf
Rodrigues, V. A. B. (2022). Formação Cidadã Decolonial Crítica: uma proposta socialmente referenciada para a Educação Científica e Tecnológica (Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina). Repositório de Práticas Interculturais. https://repi.ufsc.br/node/182
Rosa, I. (2019). Diálogo entre o pluralismo epistemológico e o multiculturalismo crítico na formação inicial de professores/as de biologia (Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia). DSpace. https://repositorio.ufba.br/handle/ri/31478
Santos, P. N. (2021a). Arqueologia, Afrocentricidade e Ensino de Química. Revista Debates em Ensino de Química, 7(2), 75–86. https://www.journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/view/4242
Santos, P. N. (2021b). Quem (ou o que se) produz sobre relações étnico-raciais e ensino de química? Apontamentos para um futuro. Scientia Naturalis, 3(4), 1604–1616. https://doi.org/10.29327/269504.3.4-6
Saviani, D. (1984). Sobre a natureza e especificidade da educação. Em Aberto, 3(22), 1–6. https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/13575
Saviani, D. (1999). Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política (32ª ed.). Autores Associados.
Silva, C. S. (2021). “Professor, o que são esses traços no quadro?”: princípios histórico-críticos para o ensino de representações estruturais de compostos orgânicos (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia). DSpace. https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33535
Silva, G. F. A. (2021). A lei 10.639/03 e a formação inicial de professores/as de química: um estudo com discentes do ICENP-UFU (Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, Minas Gerais). Repositório Institucional — Universidade Federal de Uberlândia. https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32232
Silva, M. B., Tardin, R. V. L., & Moreira, L. M. (2020). As relações étnico-raciais na pesquisa em educação em Ciências. Revista África e Africanidades, (34).
Spirkin, A. (1990). Fundamentals of Philosophy. Progress Publishers.
Verrangia, D. (2009). A educação das relações étnico-raciais no ensino de Ciências: diálogos possíveis entre Brasil e Estados Unidos (Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo). Repositório Institucional da UFSCar. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2222
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Pedro Magalhães, Hélio da Silva Messeder Neto

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Os autores são responsáveis pela veracidade das informações prestadas e pelo conteúdo dos artigos.
Os autores que publicam neste periódico concordam plenamente com os seguintes termos:
- Os autores atestam que a contribuição é inédita, isto é, não foi publicada em outro periódico, atas de eventos ou equivalente.
- Os autores atestam que não submeteram a contribuição simultaneamente a outro periódico.
- Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à RPBEC o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial neste periódico.
- Os autores atestam que possuem os direitos autorais ou a autorização escrita de uso por parte dos detentores dos direitos autorais de figuras, tabelas, textos amplos etc. que forem incluídos no trabalho.
- Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (por exemplo, publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Os autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (por exemplo, em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) após a publicação visando aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.
Em caso de identificação de plágio, republicação indevida e submissão simultânea, os autores autorizam a Editoria a tornar público o evento, informando a ocorrência aos editores dos periódicos envolvidos, aos eventuais autores plagiados e às suas instituições de origem.